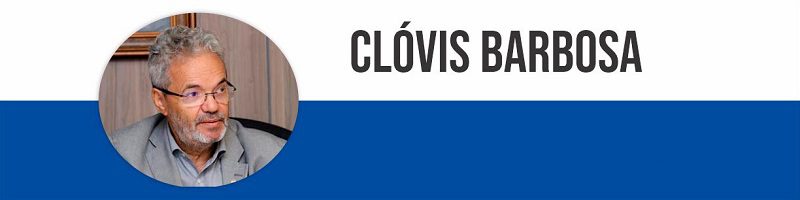Clóvis Barbosa
ADOLF EICHMAN. Constrangedor atingir um sono tranquilo após ler “Eichman em Jerusalém”, obra da cientista social judia Hannah Arendt. Baseado em recortes biográficos que possuía acerca do oficial do terceiro reich, supus, durante algum tempo, tratar-se de uma fera as-sustadora, brutal, medonha, violenta. Via-o enquanto um sanguinário, capaz de, com as próprias mãos, extrair escalpos das vítimas. Tal no-ção, por si só, já o tornava um demônio de fisionomia desgastante para olhos mais sensíveis. Hannah Arendt, porém, extirpou de mim o mito, apavorando-me com a existência de algo capaz de extrapolar o arquéti-po de leviatã que projetei para o nazista. Eichman não passava de um burocrata. Espantoso! Por que, então, outorgar a um artífice do carimbo, do clipe e do grampeador a honorável distinção emblemática de o “exe-cutor-chefe” do Estado alemão? O impasse resolve-se na esfera psico-lógica.
Psicológica? Mas por que não moral? É possível trabalhar com as duas estruturas na condução do caso. Psicologicamente, a en-genharia mental de Eichman estava mapeada segundo ângulos que se projetavam para a direção de um terreno singularmente demarcado: a psicopatia. Psicopatas não são doentes mentais. Tampouco, deficientes mentais. Doença mental é o distúrbio que afeta o elemento psíquico “percepção”, a exemplo da esquizofrenia. Esquizofrênicos enxergam coisas que não existem no mundo real. Já a deficiência mental é a en-fermidade que alcança o psiquismo no âmbito da “inteligência”, a exem-plo da tríade oligofrênica: debilidade, imbecilidade e idiotia. Psicopatia, entretanto, não é nem doença, nem deficiência. É uma condição, inata e irreversível. Ser psicopata equipara-se a ser branco, preto ou índio. As-sim como um índio nasceu e morrerá índio, um psicopata nasce e morre psicopata.
PIERREPOINT. Essas reflexões me impelem a traçar um pa-ralelo entre Eichman e outro psicopata, semelhantemente sedutor, o in-glês Albert Pierrepoint. Com efeito, ambos foram artesãos na escritura-ção da morte. Segundo consignado pela historiografia, Eichman não es-tava preocupado com a justiça ou com a injustiça da execução em mas-sa dos judeus. Sua irresignação moral partia do seguinte princípio: liqui-dar judeus era uma política do Estado ao qual servia. Portanto, operaci-onalizar o extermínio desse povo implicava tão-somente mais uma etapa da cadeia engrenada por fases matematicamente estabelecidas, a exemplo de fazer a triagem dos que iriam morrer, levá-los aos trens que os transportariam até a zona de execução, cumprir rigorosamente horá-rios de saída e de chegada das locomotivas, conduzir os condenados a câmaras de gás e, por fim, matá-los. Na mente de Eichman, nada disso consubstanciava crime.
A logística da denominada “solução final” assumia cores se-melhantes às que permeiam os armários de um escritório de contabili-dade. Judeus mortos eram apenas números, vistos sem índice moral. Nesse sentido, Eichman banalizou o mal, transformando a fattispecie numa atividade instrumental. Aniquilar judeus, para Eichman, não era algo mau e, tampouco, bom, mas só uma instância, dentro do processo de sedimentação da filosofia nacional-socialista, de cuja implementação a manutenção de seu status dependia. Da mesma maneira que um co-merciante de livros precisava vender mais compêndios para garantir o emprego, Eichman se notabilizou como workaholic na matança de ju-deus para ascender na escala de respeitabilidade do establishment na-zista. A essa postura, desprovida de sentimento ou valoração, vazia de compaixão, piedade ou até mesmo de raiva, Hannah Arendt chamou “banalização do mal”.
Alguém, cuja pulsação sanguínea coordene-se pela morali-dade afeta à noção de bem e mal, sabe que a ação nazista foi perversa. Essa assertiva não se subordina a digressões para encontrar pálio de validade. Ali onde, todavia, burocratas veem a trucidação de humanos com indiferença, conferindo-lhes a envergadura de códigos de barra, o mal passa a ser corriqueiro, trivial, como resolver uma equação de álge-bra. Na Grã-Bretanha, Pierrepoint, o legendário carrasco dos 608 enfor-cados, pouco se importava em matar culpados ou inocentes (vítimas de erros judiciários). Catalogava seu cemitério pessoal meticulosamente num caderno. A função que o Estado lhe deu foi a de levar delinquentes ao cadafalso. Queria cumprir seu múnus com extremo profissionalismo, procurando ser, inclusive, o mais rápido dentre os colegas de trabalho. Igualmente, banalizou a morte, disfarçando-a atrás da performance insti-tucional.
SIMON WIESENTHAL. O ultimato ao qual pretendemos chegar é lúdico: há os psicopatas, como Eichman e Pierrepoint, para os
quais pouco importa se o que fazem é bom ou mau, pois o mal é uma banalidade. Cumprir a formalidade do sistema está acima de aferir o tônus de justiça. Existiu, por outro lado, Simon Wiesenthal, judeu e so-brevivente do campo de Mauthausen. Finda a guerra, atribuiu-se a mis-são de caçar nazistas foragidos. Capturou 1100, dentre esses Eichman, em 1960, que estava escondido na Argentina, vivendo sob o nome Ri-cardo Klement. Wiesenthal passou por cima da lei. Chefiando o Mossad, entrou clandestinamente na Argentina e sequestrou Eichman, que, leva-do a Jerusalém, foi julgado, condenado à morte e executado, ainda que, em Israel, não se admitisse a pena capital. Acontece que executar Ei-chman era bom e justo. Isso distingue psicopatas formalistas dos ho-mens de honra.
Triste. Ao preço de banalizar o mal, libertaram Abdelmassih, facínora que abusou dezenas de pacientes. Afinal de contas, a formali-dade da lei o autorizava. Libertar o médico Abdelmassih em 2010, por exemplo, é ver suas vítimas como cifras. Sequestrar Eichman foi ver su-as vítimas como almas. As mesmas que Pierrepoint fazia questão de lavar, após a execução. Sinceramente, entre a toxicidade de uma lei ga-sosa e a grandeza salutar de para ela fechar os olhos em busca de jus-tiça, incluo-me no plantel de Wiesenthal. Para fraturar o pescoço de um nazista, entre a segunda e terceira vértebras, é lícito olvidar a lei que o anistia. Você, por exemplo, acha justo, à custa de formalidades que dão ossatura a sem-vergonhices, manter um ladrão fiscalizando o dinheiro público? Por isso, somos compelidos, às vezes, a concordar com Var-gas Llosa, quando ele afirma, no “Manual do perfeito idiota latino-americano”: “Hay gobierno? Soy contra”.
POST SCRIPTUM:
Sobre meu último artigo, “Síndrome de Estocolmo”, recebi do leitor Fábio Túlio, magistrado federal, a seguinte análise que é uma aula de filosofia. Compartilho parte de sua análise:
“O grande Borges admirava intensamente Spinoza, a quem dedicou sonetos belos. Em um deles, concluiu o texto dizendo que o mais puro amor foi ao filósofo outorgado: o amor que não espera ser amado! Faço um lembrete importante: Spinoza era judeu de ascendência espanhola e portuguesa, embora haja sido ‘excomungado’ por causa de suas ideias heréticas e de seu panteísmo blasfemo. Nunca se casou, porque o preço exigido pelo pai da única mulher que pediu em casamento – converter-se ao cristianismo – considerou, com justa razão, inaceitável. Então, abriu mão do amor conjugal em fidelidade à própria alma, (…) A ética spinozista não é, ao contrário de tantas que vicejaram na Antiguidade e que vicejam hoje, uma ética da prudência ou do dever ou do sacrifício, senão do desejo. Tal concepção – a formulação de que o Bem e o Mal decorrem da aspiração humana por realizar seus fins, não existindo per si como substâncias autônomas -, passados séculos, influenciou fortemente a psicanálise, e Freud o reconhece (Eros ou libido). O bom, nessa medida, é o que aumenta a nossa potência de ser; o mau, o que a diminui. Portanto, o bem e o mal são funções do homem, não são, em definitivo, absolutos num céu de estrelas fixas e horizonte estático. Lembrei-me disso ao ler seu texto, publicado no Jornal da Cidade, a propósito da Síndrome de Estocolmo. No âmbito do humano, para o pensador setecentista, cabe pensar o social como algo que potencializa o conatus do indivíduo e que, afinal, está presente em todas as coisas: a inclinação de todo ser em perseverar na existência. E aqui justifico a digressão que empreendi: se não se pode debater a psicanálise sem referir sua raiz marcadamente spinozista, é o caso, igualmente, de reconhecer que Spinoza fez aportes essenciais, há vários séculos, que continuam atuais, como os que advêm de sua ética e de sua filosofia política, para compreender o fenômeno a que você se dedica em sua oportuna e, como é habitual, estimulante crônica. O que desejo marcar é que a Síndrome de Estocolmo é um nome novo para um fenômeno sempiterno: a inclinação do homem por estabelecer vínculos afetivos profundos com seu algoz (por todos, na Antiguidade romana, Calígula; na contemporaneidade, Franco na Espanha). Eu corro o risco de afirmar que boa parte da política, ao menos de matiz ocidental, está assentada sobre essa base. (Por que será que os estados nacionais europeus se afirmaram e constituíram, praticamente todos, a partir da ideia de um terrível inimigo externo, a que os cidadãos deveriam mui apaixonadamente odiar em comunhão?). (…) De todo modo, a única coisa que pode ser modificada, no homem, é o seu entendimento, tendo em mira que o desejo só se supera com outro de maior tônus. E este é precisamente o erro dos moralistas de quaisquer matizes: imaginar que é possível separar, no homem, a natureza que o faz misericordioso daquela que o faz odioso. (…) Os barbarismos sempre tiveram seus seguidores e seus arautos, em todos os tempos. A História é, em grande medida, barbaridade. As tarefas da ética e da política são, finalmente, a de educar os bárbaros e a de fazer prevalecer os valores da liberdade, respectivamente. Aumentando, assim, a alegria privada e o bem-estar público. Fraterno abraço”.