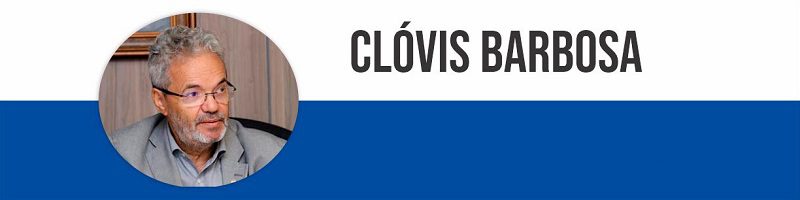Clóvis Barbosa
Blogueiro e conselheiro do TCE/SE
A guerra. Que troço intrigante. Uns morrem nela. Outros vivem dela. O escandaloso, contudo, é que, no fim, ela acaba em paz. Se por rendição ou eliminação de quem perde, não importa. Relevante é que a guerra não dura para sempre. Pelo menos quando é travada literalmente no campo de batalha. Ali onde ela se concebe enquanto embate político, porém, pode até perpetuar-se. Nesse ponto, deve-se concordar com Churchill. “Política e guerra são igualmente excitantes e perigosas. Acontece que, na guerra, morremos uma única vez, enquanto que, na política, morremos inúmeras”, ensinava o estadista. Com efeito, esse é o inevitável problema da guerra política: saber morrer. Churchill soube. Ainda quando foi vítima de uma medonha injustiça. Isso, a rigor, é o que notavelmente distingue os fracos dos fortes. Estes aceitam a derrota, mesmo que injusta; aqueles não a querem, mesmo quando a merecem.

Não fosse Churchill, ao invés de o estandarte de uma democracia, a suástica teria sido fincada na lua em 1969. Ou antes. Ou nunca. Mas a terra certamente vestiria uma suástica. Todavia, Churchill venceu a guerra. Pegou o bonde andando em 1940, quando sucedeu a Chamberlain, em cujas mãos a Grã-Bretanha e o mundo corriam o risco de soçobrar. Após iniciais baixas, a Inglaterra, pela habilidosa batuta de Churchill, trouxe os EUA para o front. Pois bem, com a derrota da Alemanha, em 1945, o planeta retomou seu curso normal e Churchill, vitorioso, candidatou-se à recondução como premiê, na certeza de que o parlamento inglês reconheceria sua grandeza e o elegeria novamente. Coisa nenhuma. Sobreviveu à grande guerra, mas morreu (temporariamente) na política, perdendo o pleito para o trabalhista Clemente Attlee. O que fez Churchill? Xingou Attlee? Não. Digeriu a derrota e recolheu-se.
Resultado? Churchill concentrou-se na conclusão de sua monumental obra (Memórias da 2ª, Guerra Mundial), que lhe renderia o Nobel de literatura em 1953. Em suma, como soube perder, Churchill também saiu vencedor. Tanto que, em 1951, já com 76 anos, Churchill retomou o cargo de primeiro-ministro. É assim que as coisas funcionam na política. Morrem-se inúmeras vezes, mas também se ressuscita inúmeras vezes. Salvo quando a estupidez não autoriza. Estúpidos não sabem sequer administrar vitórias. Se, ao invés de ter sido o maior guerreiro de todos os tempos, Alexandre, o Grande, fosse um estúpido, a batalha de Issus poderia ter tomado itinerário diverso. Após derrotar Dario III, em 333 a.C., Alexandre, cujo exército capturara entes queridos do derrotado, deu-lhes não tratamento de reféns, mas de hóspedes. Ele não tinha em Dario um inimigo, mas um adversário. Saiu duplamente fortalecido.
Veja o caso de Muammar Gaddafi, o mais excêntrico dos déspotas modernos. Quando tinha 27 anos, em 1969, liderou o golpe de jovens militares que derrubou o rei Idris do poder na Líbia. Com um discurso nacionalista e revolucionário, após tomar o poder, tomou medidas antiamericanas, o que o levou a aproximar-se dos países comunistas. Durante o seu reinado de 42 anos à frente da jamahiriya ou “república das massas”, foi acusado pela explosão de um avião em Lockerbie, na Escócia, que matou 270 pessoas em 1988; por ter tramado o atentado ocorrido numa discoteca em Berlim, que matou várias pessoas, além de financiar guerrilhas de esquerda pelo mundo, inclusive o IRA, o Exército Republicano Irlandês. É verdade que há pouco mais de 10 anos começou a recompor as suas relações com os europeus e americanos: abriu mão da bomba nuclear, da abertura para exploração do seu petróleo por empresas multinacionais, passou a visitar países, enfim, tentava passar a ideia para o ocidente que ele tinha mudado. Não abriu mão, no entanto, do sistema político que ele instaurou na Líbia, sem Constituição, Parlamento e partidos políticos. A Lei máxima existente era o seu “Livro Verde”, um guia que pretendia demonstrar que o país vivia uma democracia direta. Das quedas dos tiranos da chamada Árabe pós-primavera, Ben Ali, na Tunísia, que se refugiou na Arábia Saudita e Hosni Mubarak, do Egito, que se encontra preso aguardando julgamento, Gaddafi foi o único, até agora, que teve morte violenta.
As circunstâncias de sua morte, acredita-se, jamais serão esclarecidas. As imagens veiculadas pela televisão mostram que ele já havia sido capturado antes de ser torturado e morto. O que leva um homem a se auto intitular dono da vontade popular? O escritor egípcio Alaa AL Aswani, em entrevista ao jornalista Marcelo Ninio, da Folha de São Paulo, disse que “Ditadores tendem a criar uma realidade paralela, em que o ego e a muralha de aduladores a sua volta o isolam da realidade em que vive o resto do povo”. E é verdade. Perde a racionalidade aquele que se consola com um mundo autocriado, acreditando ser o melhor de todos! São tolos desprovidos de sentimento autocrítico e de sabedoria para percepção do momento certo de se afastar do cenário. A História é pródiga em nos ensinar que o poder não é eterno. Júlio César, imperador romano, que exerceu o poder despoticamente acabou a vida apunhalado; Dario I, rei da Pérsia, que governou um vasto e poderoso reino, mas a insensatez e a ambição desmedidas fizeram com que fosse derrotado nas Batalhas de Maratona e Plateia quando tentou conquistar a Grécia. Xerxes, percorreu o mesmo caminho do seu pai Dario I. Após subjugar o Egito, preparou um grandioso ataque à Grécia. A história mais uma vez se repetiu: foi derrotado numa batalha sangrenta, seu exército ficou em frangalhos e foi obrigado a fugir para a Ásia, onde morreu assassinado pelas mãos de um dos seus auxiliares.
Nabucodonosor, rei dos Assírios, ficou embasbacado com a vitória que obteve sobre Arfaxad, rei dos Medos em Ecbátana, tanto que comemorou com o seu exército durante 120 dias de cachaçada em Nínive, capital da Assíria. Numa ambição ilimitada e se auto intitulando “o grande rei” ou “o senhor de toda a terra”, convocou o general Holofernes para organizar uma guerra mundial contra todos os povos. O seu exército foi formado por cento e vinte mil guerreiros a pé e uma multidão de cavalos com doze mil cavaleiros. O fim da história está na Bíblia no livro de Judite, quando Holofernes, general de Nabucodonosor, teve a cabeça cortada por Judite, mulher de Manassés, o que fez com que os soldados ficassem desnorteados, sendo massacrados pelos israelitas. Ciro, rei persa, outro governante tirano, cujo orgulho e poder teve um triste fim, caiu numa cilada preparada pela rainha Tamiris, sua inimiga com quem guerreava. Esta, após capturá-lo, cortou-lhe a cabeça e encheu-a com o seu próprio sangue. Sísifo, tido pela mitologia grega como um homem muito astuto, achava-se o mais inteligente dos mortais, pois, chegou, inclusive, a enganar a morte quando o ludibriou e o manteve cativo. Por isso, por ter enganado Júpiter, responsável pelo envio da morte, passou o resto da vida empurrando um rochedo até o alto de uma montanha e quando a mesma chegava no cume, tornava a cair, sendo Sísifo obrigado a recomeçar a tarefa. Esses, portanto, como tinham o rei na barriga, achavam-se acima de tudo e de todos.
E qual o arquétipo do político ideal? Aquele que detém a magia de transformar derrotas em vitórias e vitórias em conquistas ainda mais memoráveis. E o o arquétipo do político estúpido? É aquele cuja débil ossatura só é capaz de projetar a engenharia do caos. Quando vencedor transforma a vitória em derrota; quando derrotado, transforma a perda em sepultamento. O estúpido, na política, não morre inúmeras vezes. Morre apenas uma. A morte política, entretanto, depende mais da perspectiva do derrotado, do que do tratamento que lhe é conferido pelo vencedor. Daí a necessidade de encarar cada batalha apenas como uma fase do longo processo que é a biografia política. Veja-se, por exemplo, a biografia política do ex-governador sergipano, falecido prematuramente em 2013, Marcelo Déda. Perdeu algumas batalhas? Sim. Mas por que transpirava um como que de invencibilidade? Porque digeriu as derrotas, capitalizando-as, a fim de, mais tarde, lucrar com elas.
Aqui, vem a calhar uma breve referência a um dos mais imponentes romances de Machado de Assis: Quincas Borba. Nessa obra, Machado introduz uma filosofia de cunho escatológico, à qual dá o nome de humanitismo. No humanitismo de Quincas Borba, há situações em que a própria vida lança seus alicerces a morte de outrem. Esse ponto-de-vista é ilustrado com a seguinte estória: imaginem-se duas tribos rivais famintas diante das quais há uma plantação de batatas. As batatas mostram-se suficientes para alimentar só uma das tribos. Se elas fizerem a paz, no sentido de comerem juntas as batatas, todos morrerão de inanição. Solução? A guerra. A morte de uma tribo viabilizará a vida da outra. Morte, nesse caso, é vida. Ao derrotado, o extermínio; ao vencedor, as batatas. O emprego irônico das batatas para recompensar o êxito demonstra o menoscabo de Machado por quem despreza a vida e a dignidade alheias.
Numa palavra, quem vê no extermínio do adversário a única saída para a sua vitória, merece como prêmio um punhado de batatas. Quando perdia, Déda atribuía a si próprio a razão da perda. Depois, tornou-se um vencedor. Déda atribuía ao povo a razão das vitórias. E, mais importante, não humilhava o derrotado. Por isso, não lucrava tão-somente batatas nas vitórias que galgava. Comemorava a vitória, vibrava com elas. Estupidamente, um dos derrotados no em um dos pleitos garantiu que Déda comemorou em demasia a vitória, arrotando que ele só fez isso porque bebeu uma cervejinha além da conta. Interessante, Alexandre comemorava suas vitórias com vinho. Churchill, com whisky. Obviamente, uma cervejinha acompanhou a vitória esmagadora de Déda naquela eleição. Uma coisa é certa. Embora Quincas Borba assegure que batatas ficam para o vencedor, aqui o troféu foi outro. Ao vencedor, a cerveja; ao perdedor, as batatas.
Clóvis Barbosa escreve aos sábados, quinzenalmente.